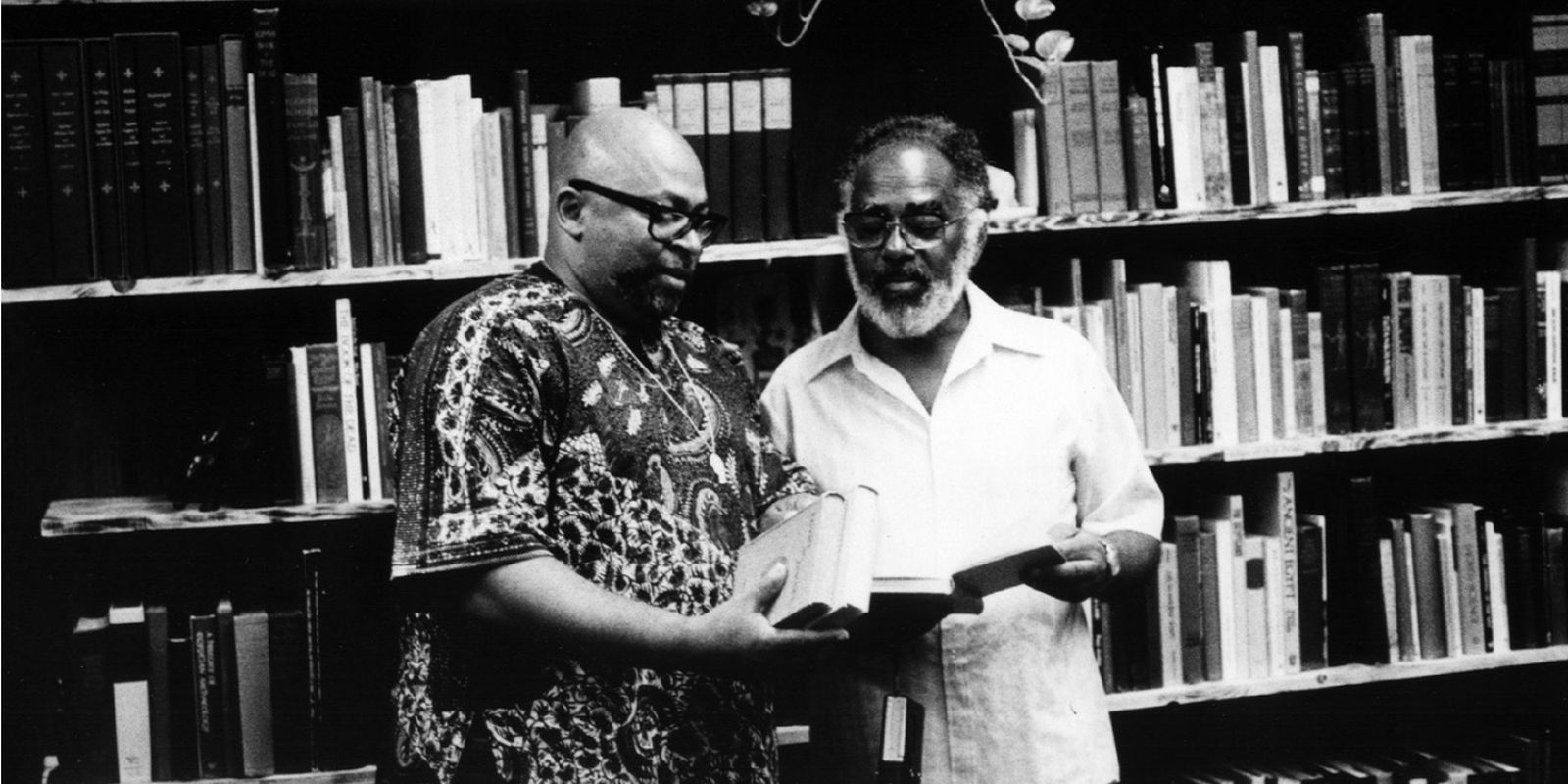“Mulher no samba tem o seu valor / como qualquer pagodeiro, sambista de nascimento / que chega com seu instrumento e com respeito pra tocar, / cantar, compor e inspirar toda uma geração”.
Uma música que poderia muito bem ser um manifesto. Mulheres no Samba, composto e cantado por Roberta Gomes, sambista paulistana com quase 30 anos de carreira, é direto no recado. A mulher pode ocupar o lugar que ela quiser no samba e não ser apenas ser “passista e inspiração”.
“Quando a gente chega numa roda de samba, a maioria é de homens. E eles têm essa coisa de achar que a gente nunca está indo lá para cantar, compor, tocar. Por mais que saibam que eu sou sambista, por exemplo, se eu chego numa roda de samba e falo que eu tenho músicas minhas, tem sempre uma reticência. Pensam que a música deve ser parceria com algum outro homem. Por isso, faço questão de gravar as minhas músicas nos meus discos. Mesmo que eu tenha tido parcerias maravilhosas com homens, nunca coloco essas músicas nos discos”, diz Roberta Gomes.
Nascida em berço de samba, com família e amigos ligados ao estilo musical, Roberta primeiro tentou seguir por outros caminhos, cantando pop, MPB, jazz e black soul. Mas um dia entendeu que não tinha como fugir do samba. Já lançou dois discos: em 2013, O Meu Lugar e, em 2021, No Caminho do Samba, só com músicas próprias. Como compositora, escreveu músicas para Diogo Nogueira, Flávio Renegado e Clube do Balanço.
“Eu fui tolhida por muitos anos pela minha mãe e pela minha família, que tinha receio de que eu construísse uma carreira como sambista. Minha mãe tinha medo de que eu não conseguisse pagar minhas contas. Hoje em dia, ela entende. E é com muita força e esforço que a mulher tem que se colocar como profissional em todas as áreas, porque senão a gente nunca sai do mesmo lugar”, diz Roberta.
Dia da Mulher Sambista
Para lembrar histórias de resistência e luta dentro do universo do samba, o governo federal sancionou, na semana passada, lei que instituiu o Dia da Mulher Sambista, sempre celebrado em 13 abril. Data que homenageia também o nascimento de Dona Ivone Lara, cantora, compositora e instrumentista. Falecida em 2018, deixou legado como um dos maiores nomes do samba no país. Foi um exemplo de resistência e de luta para romper restrições machistas, como ter sido a primeira mulher a escrever um samba-enredo, em 1965, para a escola Império Serrano: Os Cinco Bailes da História do Rio.
“Dona Ivone começa a compor ali por volta dos 10 anos de idade. E lá pelos 30 anos, ela precisava levar os seus sambas para as rodas a partir do primo, como se fossem sambas dele. Porque não se aceitava que uma mulher escrevesse um samba. Dona Ivone não era submissa ou aceitava o sistema. Ela foi usando diferentes estratégias para romper com as restrições. Primeiro, as músicas precisavam fazer sucesso, para depois ela ser reconhecida como compositora delas”, diz o pesquisador e jornalista, Leonardo Bruno, autor do livro O Canto de Rainhas, sobre a história das mulheres no samba.
O dia de hoje (13) é de festas e homenagens. O grupo Flor do Samba, composto apenas por mulheres, vai comandar uma roda de samba em Santa Tereza, às 17h deste sábado, tocando apenas canções da Dona Ivone Lara. Uma das integrantes, a instrumentista, arranjadora e cantora Manoela Marinho, diz que a data ajuda a reforçar que mulheres precisam ter mais protagonismo no samba. Ela lista alguns exemplos machistas, como o fato de que poucos homens costumam frequentar as rodas de mulheres.
“São violências muito sutis. Quando é uma mulher tocando, primeiro que precisa chegar lá arrasando. Uma das coisas mais cruéis e difíceis para uma mulher instrumentista no samba é ter a possibilidade de errar, de construir o conhecimento, o aprendizado como os homens têm. Eles vão para as rodas, testam, acertam, erram”, diz Manoela Marinho. “Outra coisa comum é reduzir a mulher à aparência dela. Ela tem que ser bonita e gostosa para as portas se abrirem mais. Essa é uma exigência muito forte para a mulher”, diz Manoela Marinho.
Além de Manoela, também integram o grupo Eliza Pragana e Luciana Jablonski. O Flor do Samba surgiu em 2017 a partir de outro movimento sambista, chamado de Primavera das Mulheres, que reunia artista de diferentes expressões artísticas e com posicionamentos feministas, antirracistas e em defesa dos diretos da população LGBTQIA+. E manteve esses princípios até hoje.
“É por meio dessa atuação no samba que a gente consegue criar algum movimento ativista. Mas isso precisa acontecer de maneira mais ampla na sociedade. E acho que, aos poucos, essas pautas estão sendo mais faladas, vistas e transformadas”, diz Manoela.
História das sambistas
Não dá para falar da história do samba, sem falar do papel desempenhado pelas mulheres. Um dos grupos que estão na origem do samba é o das tias baianas, que vieram de comunidades de terreiros, a partir das confrarias religiosas, e ajudaram a construir a cultura popular urbana. Mas muitos desses nomes ainda são pouco conhecidos.
“Existem muitas mulheres no mundo do samba e a gente perdeu o nome delas por conta do machismo. Muito se fala de Tia Ciata, mas a gente ainda tem buscado mais informações sobre ela. Eu fico pensando, e Tia Perciliana, Tia Carmem do Ximbuca, Tia Sadata, que foram essenciais para o samba nessa virada do século 19? Essas histórias se perderam e a gente precisa resgatá-las”, defende Maíra de Deus Brito, professora e doutora em Direitos Humanos, que tem pesquisas sobre o samba.
Esse silenciamento de histórias femininas tem reflexos ainda nos dias atuais. No livro Canto de Rainhas, o jornalista Leonardo Bruno aborda histórias de ícones como Alcione, Beth Carvalho, Clara Nunes, Elza Soares, Clementina de Jesus, Leci Brandão, Elizeth Cardoso, Teresa Cristina, Mart’nália, Mariene de Castro, entre outras. Ele conta que todas as que conseguiu entrevistar demonstravam algum tipo de receio de se apresentar como sambistas, por essa identidade ter sido sempre muito atrelada aos homens.
“Se você olhar para o lugar das tias baianas, elas estão encarceradas nesses lugares que a mulher tem permissão de ocupar. Podem ter funções maternas, de alimentação, de ser musa inspiradora e objeto sexual, e de acolhimento”, diz Leonardo. “Mas essas tias baianas também eram sambistas. Há registros de que elas praticavam algumas das artes do samba. Ou tocavam, ou cantavam, ou dançavam. Tia Ciata, por exemplo, entrou para a história como a mulher que abria o quintal para receber sambistas. E ela era muito mais que isso, tocava violão e versava também”.
E quando o problema é ainda mais grave? Exemplo das letras de samba que defendem explicitamente a violência contra a mulher. O samba Amor de Malandro, de 1929, traz o verso “Se ele te bate, é porque gosta de ti. Bater em quem não se gosta, eu nunca vi”. A Portela tem samba-enredo de 1932, Vai como Pode, com a frase: “Lá vem ela chorando. O que é que ela quer? Pancada não é, já dei!”. Em 1952, Moreira da Silva, cantou: “Isso não é direito, bater numa mulher que não é sua”. Em 1997, Zeca Pagodinho lançou Faixa Amarela, com versos como “Mas se ela vacilar vou dar um castigo nela. Vou lhe dar uma banda de frente. Quebrar cinco dentes e quatro costelas”.
“Muita gente vai utilizar o argumento de que Fulano era um homem do seu tempo, para justificar alguns sambas que tem letras machistas. A gente está vendo que tem muito trabalho a ser feito. E não é porque um samba foi cantado e fez muito sucesso que a gente precisa ficar reproduzindo essas letras que citam violência. O samba é muito generoso. A gente pode pegar outras letras de samba que exaltam amor, justiça, igualdade, em vez de ficar pegando letras que que reproduzem violências”, diz Maíra.
Movimento musical e político
Quando uma sambista entra em cena, nunca é apenas sobre música e festa. Cada letra, acorde ou melodia têm dimensões políticas. Por isso, o Movimento das Mulheres Sambistas atua desde 2018 na valorização das artistas brasileiras. Naquele ano, foi organizada uma apresentação com mais de 100 mulheres na Cinelândia, com o objetivo de criar essa pressão pelo dia da mulher sambista.
O evento foi um sucesso e o grupo resolveu organizar outros projetos, como rodas de samba, assistência social, cursos de música e de produção fonográfica, auxílio para musicistas entrarem no mercado de trabalho profissional, e até seminário, como o previsto para junho, que vai falar da atuação da mulher sambista na cadeia produtiva musical.
“Se eu puder pontuar qual é a função do nosso movimento para a sociedade nesse momento é: formação musical, pautar políticas públicas e fazer essa articulação com as esferas pública e privada. Tudo isso para que a gente consiga postos de trabalho e valorização da mulher no mercado. A força artística existe, mas é uma das coisas, não é o foco principal”, explica Patricia.
Nesse objetivo, um dos caminhos é valorizar e iluminar trajetórias artísticas femininas, e os diferentes talentos.
“A gente precisa continuar nessa luta, para que a mulher possa virar efetivamente protagonista do saber, do conhecimento, do poder criativo artístico. A gente tem mulheres fantásticas fazendo coisas fantásticas. Discos lindos saindo e você pouco escuta falar. Tem sempre as mais famosas, mas para por aí. Os principais lugares do mainstream estão ocupados por homens. Mas tem muita mulher boa. A gente só precisa ouvir”, diz Patricia.