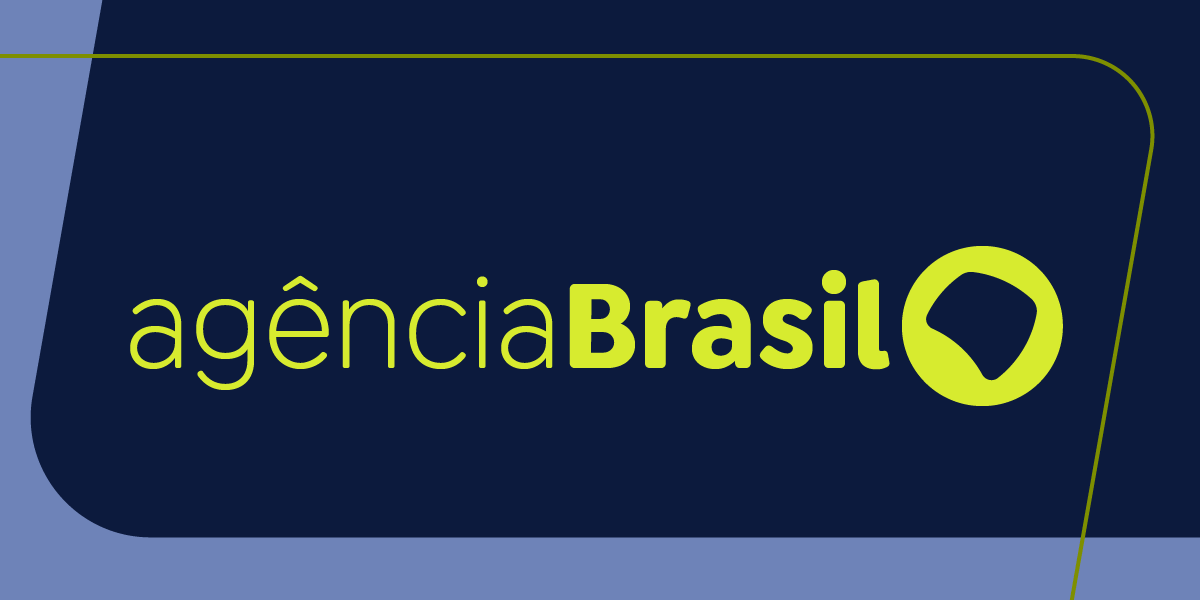Jornalistas profissionais negras que hoje estão em posição de destaque na mídia contaram nesta sexta-feira (26) como é enfrentar o racismo da sociedade para ocupar espaços onde são minoritárias.
A apresentadora Luciana Barreto, que já atuou nos canais Futura, GNT, BandNews e na TV Bandeirantes, e atualmente é âncora do Repórter Brasil, jornal da TV Brasil, contou como foi enfrentar a pobreza e o preconceito para se firmar na carreira.
Apresentadora da TV Brasil, Luciana Barreto. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
“Eu vivi várias situações e várias barreiras para chegar até aqui. Como chegar numa maquiagem de uma emissora e não ter maquiagem para pele preta. Para conseguir vaga de apresentadora, eu ouvi de uma amiga minha, que também estava concorrendo comigo, branca, dizendo quando eu passei: ‘Nossa, que legal que agora eles querem apresentadora negra”, relatou.
Luciana contou sua experiência no debate “Mulheres Negras na Mídia: Inovação e Impacto na Comunicação Pública” no Festival Latinidades 2024, que ocorre em Brasília. De acordo com a jornalista, foi na televisão que ela entendeu o problema com sua autoestima.
“Na televisão eu fui entender o quanto nossos sonhos são podados e violados. O quanto as crianças da década de 70, 80 e 90 sofreram profundamente com a sua autoestima, quanto elas foram impedidas de sonhar por conta da televisão brasileira”, completou, lembrando da falta de pessoas negras nas emissoras.
Também participou do encontro a jornalista Joyce Ribeiro, que hoje apresenta o Jornal da Tarde na TV Cultura e já trabalhou nos principais telejornais do SBT e da TV Record. Joyce foi ainda a primeira mulher negra a apresentar um debate presidencial, em 2018.
Jornalista Joyce Ribeiro (esquerda). Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
“Essa caminhada não foi recheada de facilidades. Muito pelo contrário. Ouvi falas muito duras, muito difíceis ao longo da carreira. Uma vez uma colega me deu uma sugestão, porque era muito minha amiga, dizendo que eu precisava pedir para sair [do trabalho] porque a gente trilhou um caminho grande para estar aqui e, para me preservar, eu tinha que pedir para sair, entre tantas outras coisas”, relembrou.
A jornalista colombiana Mabel Lorena Lara também contou sua experiência na televisão do país caribenho, destacando que alisava o cabelo e tentava esconder a própria personalidade na tentativa de ser aceita em um meio majoritariamente branco.
“Depois de muito tempo e de prêmios e reconhecimentos e de sair na televisão eu disse: ‘Essa mulher que vocês estão premiando como a melhor nas notícias, além disso, tem cabelo encaracolado’”, contou.
Jornalista colombiana Mabel Lorena Lara. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Lana acrescentou que decidiu soltar o cabelo depois que uma garota a questionou em Cartagena, na Colômbia. “Uma garota com seu cabelo natural perguntou: ‘Se você é a negra das notícias por que não se parece conosco?’”, completou.
Mabel Lorena Lara foi premiada, em 2016, como líder inspiradora pelas Nações Unidas e pelo governo da Suécia. Ela foi ainda negociadora no processo de paz com guerrilhas colombianas.
“Essas experiências de racismo e machismo são amplificadas quando estamos na televisão. As pessoas têm um olhar muito específico em relação a gente, ao nosso corpo, ao nosso cabelo e a nossa bunda”, acrescentou.
O início
As três profissionais tiveram em comum a insegurança no começo da carreira. As três imaginavam que a mídia não era um espaço para elas. Segundo Luciana Barreto, a comunicação entrou em sua vida porque ela percebeu que o meio era uma ferramenta poderosa de transformação.
“Nós éramos muito periféricos e era um bairro até sem asfalto, sem saneamento básico nessa época, quando eu decidi fazer comunicação. Eu via que o jornalismo era uma ferramenta poderosa, mas era uma ferramenta utilizada para poucos”, explicou.
Segundo a apresentadora da TV Cultura, Joyce Ribeiro, o universo da comunicação lhe atraia muito, mas pensava que era algo distante de sua realidade.
“Não fazia parte do que eu achava que poderia sonhar. Isso já me colocava um certo receio em seguir essa carreira. A gente se arrisca em todas as profissões, mas no universo da comunicação, que sempre teve tão fechada à nossa presença, não me via”, contou.
Para a colombiana Mabel Lorena Lara, foi preciso construir uma autoestima e entender que a mídia é um local onde as mulheres negras também merecem estar.
“Em vários momentos eu pensei que não era um lugar para mim. No meu país, por décadas, as mulheres afros representam a servidão, um pouco de exotismo, a utilização dos corpos das mulheres como atraentes e pouco se falava nos meios de comunicação”, destacou.
Negras na mídia
Além do debate sobre a participação de mulheres negras na mídia, o Festival Latinidades 2024 criou o Prêmio Jacira da Silva, em homenagem a jornalista que foi a primeira negra a assumir a presidência do Sindicato dos Jornalistas do Distrito Federal, entre 1995 e 1998, e fundou a Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial (Cojira/DF).
Na categoria Jornalistas Negras, a gerente da Agência Brasil, Juliana Cézar Nunes, recebeu o prêmio ao lado de nomes como Maju Coutinho, da Rede Globo, e Basília Rodrigues, da CNN.
Na categoria Mídias Negras, foram premiadas a Revista Afirmativa, a agência de notícias Alma Preta, o Instituto Cultne, o Mundo Negro e o Africanize, veículos de comunicação que priorizam e dão visibilidade às pautas ligadas à população negra brasileira.