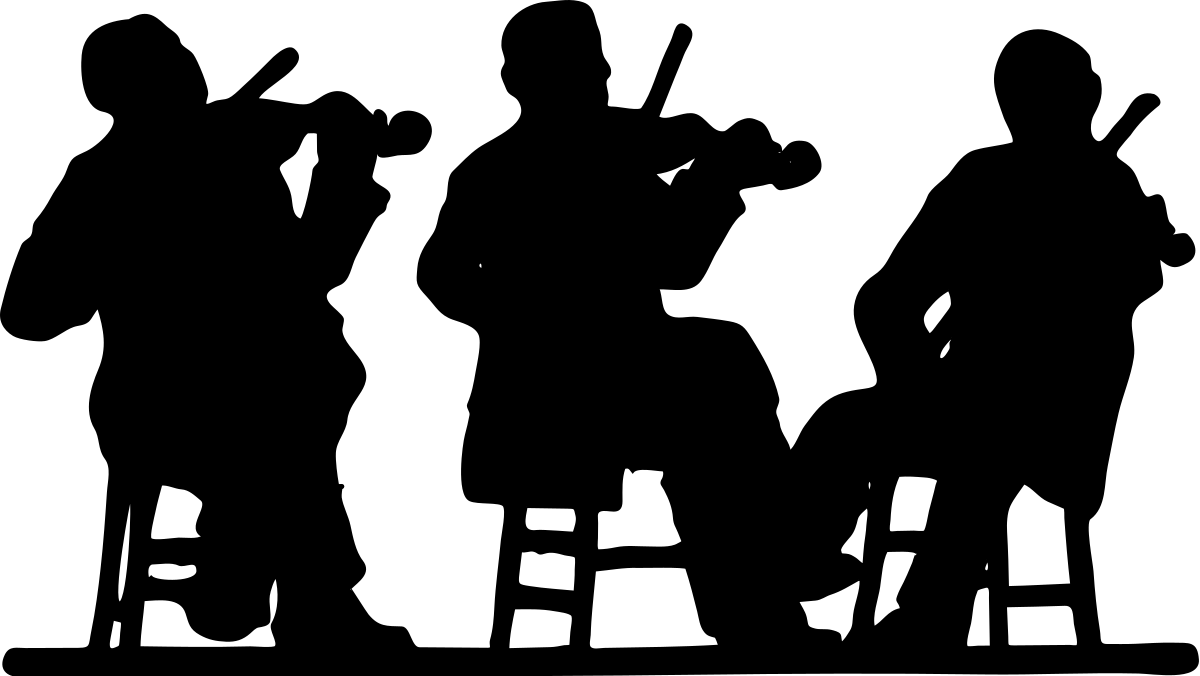A psicóloga paulistana Carmen Galluzzi tinha completado 48 anos de idade quando começou a se sentir mais cansada que o habitual. Atribuindo o mal-estar ao estresse da tripla jornada de trabalho, estudo e cuidados com o lar, ela seguiu tentando ajustar sua rotina. Até começar a perder a força muscular e notar que seus movimentos estavam se tornando mais lentos e limitados. Só então ela se convenceu de que algo mais sério estava acontecendo.
Nos três anos seguintes, Carmem passou por vários especialistas e se submeteu a muitos exames. Até um neurologista lhe dar o diagnóstico definitivo: “Carmen, você tem Parkinson”, atestou o médico. “Foi impactante, mas, a partir daí, pude decidir o rumo a tomar. O médico me explicou que a doença era progressiva e incurável, mas que os sintomas iniciais podiam ser controlados com o tratamento adequado”, contou a psicóloga em entrevista à Agência Brasil.
Com a estimulação cerebral profunda, psicóloga Carmen Galluzzi conseguiu ter mais qualidade de vida – Carmem Galluzzi/Arquivo pessoal
Pouco após receber o diagnóstico, Carmen se aposentou por invalidez, deixou o trabalho e passou a se dedicar a cuidar da saúde. Mesmo assim, como a cura para o Parkinson ainda não foi encontrada, algumas consequências da enfermidade se intensificaram. Motivando a psicóloga a, 13 anos após ser diagnosticada e com 63 anos de idade, aceitar se submeter a uma cirurgia complexa, a estimulação cerebral profunda (do inglês deep brain stimulation, ou DBS).
Indicada para o tratamento de doenças neuropsiquiátricas, incluindo epilepsia e depressão resistente ao tratamento, a DBS consiste no implante de eletrodos no cérebro do paciente. Dois fios subcutâneos interligam os finíssimos condutores de corrente elétrica a uma microbateria inserida sob a pele, na altura do peito do portador. Como um marca-passo, o conjunto emite pulsações elétricas em áreas cerebrais específicas, auxiliando no controle dos impulsos nervosos, minimizando os tremores decorrentes do Parkinson.
Realizada em junho de 2023, a cirurgia durou cerca de dez horas. Durante o tempo em que esteve com a calota craniana aberta, a psicóloga permaneceu consciente, sedada apenas com anestesia local. Isso porque, para identificar o ponto exato onde instalar os eletrodos, os cirurgiões precisam que os pacientes reajam a seus comandos de voz.
“Todo mundo acha que uma cirurgia é para ser feita quando não estamos bem. Não. Ela é feita para otimizar o tratamento e nos dar mais qualidade de vida. Eu tive alta já no dia seguinte”, contou Carmen.
“Com o tempo, pude diminuir os remédios que eu tinha que tomar para evitar os espasmos. E, com a fisioterapia e as sessões de fono, que continuo fazendo, eu hoje me sinto muito melhor”, avaliou a psicóloga.
Investimentos
Realizada há cerca de 40 anos, a DBS ainda é considerada um procedimento médico de ponta. Contudo, conforme o neurocirurgião Bruno Burjaili, médico que operou Carmen, é um dos muitos métodos terapêuticos resultantes da contínua evolução das neurociências – campo da ciência que estuda o sistema nervoso (o conjunto cérebro-medula espinhal-nervos) e as mudanças que este sofre ao longo dos anos.
Neurocirurgião Bruno Burjaili diz que a estimulação cerebral profunda é um dos métodos resultantes da contínua evolução das neurociências – Bruno Burjaili/Arquivo pessoal
“A DBS é um grande avanço, resultado do aperfeiçoamento e do desenvolvimento das técnicas e dos aparatos neurotecnológicos, mas, diante do assombroso desenvolvimento recente das neurociências, e considerando as perspectivas do que está por vir, já podemos considerá-la uma técnica consolidada, de certa forma antiga”, afirmou Burjaili, referindo-se ao ritmo acelerado de descobertas e inovações que revolucionaram os métodos de investigação dos fenômenos mentais com a promessa de encontrar respostas para doenças neurodegenerativas (Alzheimer, Parkinson, escleroses, atrofia e distrofia muscular, entre outras), distúrbios do aprendizado e transtornos mentais como a depressão resistente aos tratamentos tradicionais.
Para a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência, e a Cultura (Unesco), “estamos no limiar de uma nova revolução tecnológica”. Em um relatório divulgado no ano passado, a organização aponta que, de 2013 a 2023, os investimentos governamentais globais em pesquisas relacionadas às neurociências superaram US$ 6 bilhões, ou cerca de R$ 29,8 bilhões. O montante inclui gastos militares, como os US$ 10 milhões que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos prometeu destinar à criação de um instituto dedicado ao avanço da pesquisa unificada em inteligência artificial e natural. O objetivo: “melhorar a compreensão de como o cérebro funciona e dar continuidade a projetos de IA [inteligência artificial] mais capazes e confiáveis”.
Já os investimentos privados alcançaram, de 2010 a 2020, os US$ 33,2 bilhões, ou mais de R$ 165 bilhões. Entre as empresas interessadas nas possibilidades comerciais dos resultados de pesquisas neurocientíficas estão gigantes como a Google e a Microsoft. Há um mês, a Neuralink, do bilionário Elon Musk, anunciou que implantou o primeiro chip eletrônico no cérebro de um paciente, com o objetivo de estudar formas de reabilitar o sistema nervoso de pessoas com lesões da medula espinhal ou esclerose lateral amiotrófica, devolvendo-lhes os movimentos.
A startup norte-americana Kernel desenvolveu um capacete que promete mapear a atividade cerebral e identificar estados de ânimo, apontando tratamentos clínicos. Há um ano, a Philips e a Kookon lançaram no mercado um fone de ouvido sem fio que, em conjunto com um aplicativo, promete monitorar indicadores fisiológicos do usuário enquanto ele estiver dormindo e proporcionar um “sono repousante e rejuvenescedor”, indicando músicas ou sons adequados e ajustando o volume ao estágio do sono.
Além do crescente aporte de dinheiro, inovações como o aprimoramento da inteligência artificial potencializam o desenvolvimento e o uso das novidades neurotecnológicas, cujo impacto já transcende o campo da saúde, propagando-se para áreas como a educação, segurança, direito, publicidade etc. A exemplo dos resultados das pesquisas com a chamada interface cérebro-máquina (ICM), que buscam identificar sinais neurais e transmiti-los, na forma de algoritmos, para um computador apto a “interpretar” os pensamentos da pessoa a ele conectada, transformando-os em ações.
Mistérios
Desvendar o funcionamento mental e, assim, “compreender” o ser humano. Possibilitar a recuperação de movimentos. Fazer frente às doenças neurodegenerativas. Interligar cérebro e máquinas. Algumas das espantosas promessas das neurociências parecem ficção científica, mas as evidências de que, talvez, muitas delas não estão longe de se tornar reais vêm se avolumando.
Em 2014, milhões de pessoas em todo o mundo testemunharam um paraplégico chutar uma bola durante a cerimônia de abertura da Copa do Mundo de Futebol, no estádio Itaquerão, em São Paulo. O gesto simbólico de Juliano Pinto, que perdeu os movimentos em consequência de um acidente de carro, foi possível graças ao exoesqueleto desenvolvido por uma equipe de cientistas liderada pelo neurocientista brasileiro Miguel Nicolelis, professor da Universidade de Duke, nos Estados Unidos.
A rápida demonstração da veste robótica controlada por pensamento e desenvolvida com a colaboração de 156 cientistas de diferentes nacionalidades aconteceu apenas 14 meses após o então presidente dos EUA, Barack Obama, anunciar um investimento público-privado de US$ 100 milhões (cerca de R$ 495,2 milhões pelo câmbio atual) no que classificou como “o próximo grande projeto americano”, a Iniciativa Brain.
Em inglês, a palavra brain significa cérebro. No contexto da iniciativa, é, também, a sigla do nome do projeto, Brain Research Through Advancing Innovative Neurotechnologies, ou Pesquisa Cerebral por Meio do Avanço de Neurotecnologias Inovadoras. Acrônimo que revela o objetivo do governo norte-americano: apoiar a criação de neurotecnologias que ajudem os cientistas a obter imagens dinâmicas dos 86 bilhões de neurônios em ação. Os neurônios são células responsáveis por garantir a transmissão dos impulsos elétricos que fazem o sistema nervoso funcionar, interligando o cérebro ao restante do corpo. Registrá-los atuando em conjunto ajudaria os especialistas a entender como pensamos, sentimos, aprendemos e lembramos. Em resumo, como usamos nosso cérebro.
“Como humanos, podemos identificar galáxias a anos-luz de distância, podemos estudar partículas menores que um átomo, mas ainda não desvendamos o mistério dos 3 quilos de matéria que ficam entre nossas orelhas”, comentou Obama. “A Iniciativa Brain mudará isso, dando aos cientistas as ferramentas de que necessitam para obter uma imagem dinâmica do cérebro em ação. Esse conhecimento pode ser – e será – transformador”, discursou Obama ao apresentar o projeto.
A Iniciativa Brain ainda não chegou ao fim, mas já inspirou outros países, como a Espanha. No fim de 2022, o governo espanhol anunciou que pretende investir, até 2037, ao menos € 200 milhões (o equivalente a R$ 1,06 bilhões) na construção do chamado Centro Nacional de Neurotecnologia (Spain Neurotech), em Madri. Além de estimular o estudo do funcionamento cerebral e de novos métodos diagnósticos e de tratamento de doenças do sistema nervoso, a unidade busca atrair pesquisadores e fomentar empreendimentos inovadores em neurotecnologia.
“Há muito dinheiro sendo investido no desenvolvimento das neurotecnologias, em todo o mundo”, disse à Agência Brasil o neurobiólogo espanhol Rafael Yuste. Diretor do Centro de Neurotecnologia da Universidade de Columbia (EUA) e um dos idealizadores da Iniciativa Brain norte-americana, Yuste foi convidado a dirigir o futuro centro espanhol. Desenvolvedor de métodos ópticos inovadores para observar os circuitos neurais em ação, ele defende que a humanidade está perto de, enfim, entender como o cérebro funciona. O que, segundo ele, representaria um enorme salto não só para o tratamento de doenças neurológicas, mas também para a melhor compreensão do ser humano.
“O cérebro é o órgão que dá origem à mente. Com tecnologias que nos permitam ‘entrar’ no cérebro e registrar sua atividade, poderemos entender como a nossa mente funciona. Consequentemente, mais cedo ou mais tarde, poderemos decifrar a atividade mental e, em alguns casos, alterá-la”, sustenta Yuste (Leia aqui a entrevista exclusiva completa do neurobiólogo à Agência Brasil).
O espanhol também acredita que, em breve, parte da população passará a usar aparatos neurotecnológicos portáteis capazes de controlar outros aparelhos remotamente e, principalmente, para acessar a internet sem a necessidade de computadores, tablets ou telefones celulares. “Não demorará para que possamos fazer com o uso das neurotecnologias tudo aquilo que fazemos hoje usando nossos smartphones. Será uma revolução. Com oportunidades e desafios.”
Regulamentação
Neurobiólogo espanhol Rafael Yuste defende a proteção aos chamados neurodireitos – Neuro Technology Center/Divulgação
Rafael Yuste, que já foi eleito pela revista Nature um dos cinco cientistas mais influentes do mundo, não é o único a apontar que o desenvolvimento e a esperada popularização das neurotecnologias trarão consigo novos problemas éticos e sociais. Com a preocupação comum de que suas descobertas e invenções sejam usadas indevidamente, o espanhol criou, junto com outros 24 especialistas, a Fundação Neurorights, que propõe o reconhecimento e proteção aos chamados neurodireitos.
Os cinco neurodireitos propostos visam proteger a privacidade mental, a identidade pessoal e o livre arbítrio dos usuários, bem como garantir o acesso igualitário das sociedades aos benefícios do uso das neurotecnologias e evitar que desenvolvedores reproduzam preconceitos e vieses na criação de novas tecnologias, respeitando a diversidade, responsabilidade e transparência ao programar o funcionamento dos aparatos tecnológicos.
“São cinco áreas nas quais o emprego da neurotecnologia sem algum tipo de regulamentação ou proteção gera preocupações éticas e sociais”, disse o neurobiólogo à Agência Brasil, explicando que a sugestão é que cada país aprove suas próprias leis e que a Organização das Nações Unidas (ONU) atualize a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ampliando o rol de direitos fundamentais.
A Unesco também defende a urgência de os países chegarem “a um acordo sobre as ferramentas adequadas de governança neurotecnológica a fim de que as neurotecnologias sejam desenvolvidas e implantadas para o bem de todos os indivíduos e sociedades”. No relatório já citado, a organização alerta que “a promessa de que as neurotecnologias melhorem a vida das pessoas que vivem com deficiências desencadeadas por problemas relacionados ao cérebro pode ter um custo elevado em termos de direitos humanos e liberdades, se abusadas”. Daí a importância de “políticas bem-elaboradas, eficazes, baseadas em evidências e numa clara definição e descrição do problema, para que as escolhas feitas não corram o risco de serem distorcidas”.
Pioneirismo
Em outubro de 2021, o Chile se tornou o primeiro país a incluir em sua Constituição a proteção à atividade e aos dados cerebrais. Aprovada por unanimidade, a Lei nº 21.383 estabelece que o desenvolvimento científico e tecnológico deve estar a serviço das pessoas, respeitando a vida e a integridade física e psíquica. A lei também prevê a futura regulamentação dos requisitos, condições e restrições ao uso da neurotecnologia em seres humanos.
A proposta de regular os neurodireitos já tem defensores no Brasil. Desde o ano passado, tramita no Senado a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 29, que, se aprovada, resultará na inclusão da proteção à integridade mental e à transparência algorítmica entre os direitos e garantias constitucionais. (Leia mais sobre a PEC aqui). Na Câmara dos Deputados, há um projeto de lei, de autoria do deputado federal Carlos Henrique Gaguim (União-TO), sobre o mesmo tema. O Projeto de Lei nº 1229, de 2021, visa modificar a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), incluindo nela a proteção aos dados neurais “obtidos a partir de qualquer sistema eletrônico, óptico ou magnético”.
Para a procuradora do estado de São Paulo Camila Pintarelli, os direitos fundamentais precisam ser relidos à luz das novas tecnologias – Joel Vargas
“Os direitos fundamentais precisam ser relidos à luz das novas tecnologias e já está na hora de o Brasil incorporar a proteção à atividade mental em nossa Constituição”, defende a procuradora do estado de São Paulo Camila Pintarelli, umas das pessoas por trás da proposta de emenda à Constituição apresentada com a chancela de parlamentares governistas e da oposição, como o líder do governo federal no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), e o ex-vice-presidente da República senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS), entre outros.
“É um tema abstrato, complexo, mas no qual precisamos começar a prestar atenção, porque a velocidade da tecnologia é muito superior à velocidade da regulação”, acrescentou a procuradora.
“Muitas pessoas que ouvem falar sobre a necessidade de proteção à mente humana e aos neurodireitos acreditam que estamos falando de ficção científica, mas a interação entre máquinas e cérebros já é algo real e está cada vez mais próxima de nós. Seja para fins terapêuticos, oferecendo possibilidades de cura para doenças mentais até então incuráveis, seja para fins comerciais diversos, onde causam maior preocupação”, destacou Camila Pintarelli.
Manipulação
Professor da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), onde orienta pós-graduandos dos cursos de direito e de neurociências, Renato César Cardoso defende que, antes de qualquer coisa, o Congresso Nacional promova um debate amplo, com a participação de representantes de diferentes segmentos sociais.
“O direito vem a reboque das mudanças sociais, que surgem e nos impõem a necessidade de nos anteciparmos, sob risco de sermos atropelados pela realidade. Está muito claro que, se nada for feito, muito em breve teremos problemas com questões como a privacidade mental. Então, é sim preciso regular alguns aspectos. Só que essa regulação deve ser fruto de um debate envolvendo toda a sociedade. Não cabe só aos neurocientistas, políticos ou advogados dizer o que deve ser feito”, comentou Cardoso
Professor Renato César Cardoso diz que é preciso diferenciar legalmente o uso comercial das neurotecnologias do emprego para pesquisas científicas – Renato César Cardoso/Arquivo pessoal
Ele apontou o que classifica de “problemas jurídicos e conceituais” nas propostas de regulação da Fundação Neurorights e em tramitação no Congresso brasileiro. “As duas propostas têm o mérito de fomentar o debate, mas contêm pontos confusos, imprecisos. Talvez porque tenham um forte viés neurocientífico e, em alguns aspectos, acabem derrapando na parte jurídica. Dizer, por exemplo, que vamos proteger a identidade e o livre-arbítrio… O que é identidade? O que exatamente deve ser protegido? São dois conceitos muito abertos, de difícil conceituação, seja no direito, na filosofia ou mesmo para as neurociências. Melhor seria falarmos em proteger as pessoas da eventual manipulação cognitiva; garantir a liberdade cognitiva dos usuários de neurotecnologias”, defendeu o acadêmico.
Para Cardoso, outra questão “problemática”, embora pertinente, é a que trata do acesso equitativo às neurotecnologias de ampliação sensorial e benefícios do uso delas. “Claro que é preciso evitar que uma casta de privilegiados tenha acesso exclusivo a avanços que podem não beneficiar a maior parte da população, que será excluída, mas isso exige outras medidas, como políticas públicas que busquem reduzir as desigualdades. E que, neste aspecto, não se limitam às legislações nacionais”, destacou o professor, defendendo a importância de se diferenciar legalmente o uso comercial das neurotecnologias do emprego para pesquisas científicas.
“Se não estiver muito claro o que se quer e se deve proteger, há sim o risco de a proposta inviabilizar um monte de pesquisas acadêmicas. A distinção entre dados neurais obtidos para pesquisa e para uso comercial tem que estar na lei”, concluiu.