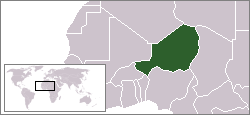O fato de ser herói da II Guerra Mundial, onde participou de 94 missões como piloto de caça com o avião P-47, contra a média de 35 ações de um piloto norte-americano no mesmo conflito, não livrou o brigadeiro Rui Moreira Lima de ser preso três vezes durante o regime militar e cassado pelo AI-1. Até hoje não foi anistiado pelo Estado brasileiro, segundo relata à Agência Brasil o filho dele, o economista Pedro Luiz Moreira Lima.
O Ato Institucional número 1, assinado em 9 de abril de 1964 pela junta militar, composta pelo general do Exército Artur da Costa e Silva, tenente-brigadeiro Francisco de Assis Correia de Melo e vice-almirante Augusto Hamann Rademaker Grünewald, suspendia por dez anos os direitos políticos de todos os cidadãos vistos como opositores ao regime, entre congressistas, militares e governadores. Nesse período, surgiu a ameaça de cassações, prisões, enquadramento como subversivos e eventual expulsão do país. O AI-1 foi o embrião da Lei de Segurança Nacional, publicada em 3 de Março de 1967.
Pedro Luiz Moreira Lima, economista e filho do brigadeiro Rui Moreira Lima Tânia Rêgo/Agência Brasil
Acusado de ser comunista, uma contravenção grave na época, Rui Moreira Lima recusou-se a entregar a Base Aérea de Santa Cruz, que comandava, no Rio de Janeiro, foi posto na reserva e preso pela primeira vez. Foram cassadas licenças de voo de oficiais da Aeronáutica, entre elas a de Rui. Sua carteira de voo foi recuperada apenas em 1979, quando, devido à idade, não tinha mais condições de executar pilotar. Pedro Luiz contou que o pai foi um dos milhares de militares, dentre os quais cerca de 2 mil oficiais, atingidos pela ditadura que não poderiam recorrer à Justiça comum para reaver seus direitos, de acordo com o Artigo 181 da Constituição de 1967.
Ato de força
O artigo 181 dizia que “ficam aprovados e excluídos de apreciação judicial os atos praticados pelo Comando Supremo da Revolução de 31 de março de 1964, assim como os atos do governo federal, com base nos Atos Institucionais e nos Atos Complementares e seus efeitos, bem como todos os atos dos ministros militares e seus efeitos, quando no exercício temporário da Presidência da República”. Pedro Luiz definiu: “foi um ato de força. Foi com este artigo que o pai abandonou sua luta pelo direito de voar e sua promoção. Somente na Constituição de 88 esse artigo foi derrubado e, sem dúvida, graças ao pai”.
O economista conta que a ditadura queria expulsar o pai das Forças Armadas. “Teve gente que pensou em até eliminar todos os oficias cassados. Em 1988, ele entrou na Justiça comum e chegou, em 1992, ao posto de major-brigadeiro”. Rui Moreira Lima morreu, entretanto, em 13 de agosto de 2013, aos 94 anos, sem conseguir obter a mais alta patente da Aeronáutica em tempos de paz, que é a de tenente-brigadeiro-do-ar. Sem acatar o pedido para que expulsassem o brigadeiro Rui Moreira Lima da Força Aérea, o presidente Castelo Branco, que o conhecia desde jovem, acabou reformando-o como coronel e não como major-brigadeiro, contrariando as leis militares, que justificavam o posto pelo tempo de serviço prestado e pelas ações na II Guerra Mundial.
Brigadadeiro Rui Moreira Lima – Arquivo pessoal
Pedro Luiz contou que, anos depois, em decisão assinada em 24 de maio de 2016, o então presidente Michel Temer concedeu promoção post mortem a tenente-brigadeiro-do-ar a Rui Moreira Lima, publicada no Diário Oficial, mas cassada em 2019 pela Advocacia Geral da União (AGU), com assinatura do presidente Jair Bolsonaro. O argumento era que Moreira Lima não era piloto. “Era engenheiro e engenheiro não chega ao posto de quatro estrelas de tenente-brigadeiro”, relatou Pedro Luiz.
Prisões
Na primeira vez que foi preso, Rui Moreira Lima foi colocado no porão do navio de tropa Barroso Pereira, próximo à Ilha Fiscal, onde sofreu tortura psicológica e conviveu com ratos, percevejos e baratas. Não havia sanitário. As necessidades fisiológicas eram feitas em um buraco no chão. Fez greve de fome. Três dias depois, o comandante do Grupo de Caça na Itália e ex-ministro da Aeronáutica, Nero Moura, telefonou para o presidente Castelo Branco relatando as condições que seu comandado estava sofrendo e ele foi transferido para o navio Princesa Leopoldina, onde permaneceu 49 dias preso.
Quatro meses depois, foi preso novamente e levado para o quartel da 3ª Zona Aérea, sob o comando do brigadeiro João Adil de Oliveira. Ficou 90 dias detido, respondendo ao inquérito de Santa Cruz, como ficou conhecido, dirigido pelo brigadeiro Manoel José Vinhaes mas, principalmente, por seu assistente, coronel João Paulo Moreira Burnier. “Esse Inquérito foi terrível, sendo dirigido praticamente pelo Burnier. Ambos –Vinhaes e Burnier – não procuravam apurar a verdade, mas comprometer-me como subversivo”. A afirmação é do próprio brigadeiro Rui Moreira Lima, em entrevista concedida para o projeto História Oral do Exército e das Forças Irmãs na Revolução de 1964, publicado em 2003.
Brigadadeiro Rui Moreira Lima – Arquivo pessoal
Libertado e cassado, começou nova carreira como civil, aos 49 anos, no mercado de ações incentivadas, como sócio da empresa Jacel Jambock. Na última prisão, em 1970, o filho de Rui, Pedro Luiz, foi detido como forma de o governo ditatorial chegar até o então coronel Moreira Lima, dentro de sua empresa. O brigadeiro foi sequestrado, encapuçado e levado para o 15º Regimento de Cavalaria Mecanizado (RC Mec), situado na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, comandado pelo coronel Mário Orlando Ribeiro Sampaio. Este era antigo comandado de Rui no Conselho de Segurança e no curso que fizeram na Alemanha Ocidental. Ali, o brigadeiro ficou incomunicável durante três dias, em uma espécie de masmorra, onde não conseguia deitar nem dormir, pois a cama tinha somente três pernas. Se precisasse ir ao banheiro, deveria chamar um dos vigias para acompanhá-lo. Até que, por ordem do General Sizeno Sarmento, foi libertado. “O pai achava que a intenção era sua morte e desaparecimento”, disse Pedro Luiz.
As perseguições não pararam, entretanto, depois da última prisão. A família recebia ameaças e xingamentos pelo telefone, vigias à paisana eram vistos rondando a rua e tinha sempre um órgão que implicava com o funcionamento da empresa do brigadeiro.
Senta a Púa!
Rui Barbosa Moreira Lima, ou brigadeiro Rui Moreira Lima, como era chamado, nasceu na cidade de Colinas, no Maranhão, em 12 de junho de 1919. Mudou-se para o Rio de Janeiro em 1938 para cursar a Escola Militar, vindo a se formar aviador na primeira turma da Escola da Aeronáutica. Tornou-se um dos primeiros membros da Força Aérea Brasileira (FAB). Inscreveu-se como voluntário para a II Guerra Mundial na Itália pelo 1º Grupo de Aviação de Caça, do qual foi o criador do lema Senta a Púa. Esse também foi o título do primeiro livro que publicou sobre a atuação do 1º Grupo de Aviação de Caça na guerra. “Foram 55 mil livros na primeira edição”, revelou Pedro Luiz. A obra já está na quarta edição. “São histórias humanas que aconteceram, com depoimentos de vários companheiros do brigadeiro”.
Senta a Púa está na quarta edição – Tânia Rêgo/Agência Brasil
Após a abertura da democracia, ele lançou Diário de Guerra, contando as missões que efetuou nos céus da Itália, sendo a primeira em 6 de novembro de 1944 e a última em 1º de maio de 1945. Foi atingido pela artilharia antiaérea alemã em nove ocasiões, das quais saiu sem ferimento. Seu embarque para a guerra ocorreu quando sua esposa, Júlia Moreira Lima, estava grávida da primeira filha, aos 18 anos. Os três filhos do oficial são Claudia, Sonia e Pedro Luiz.
De espírito inquieto, se tornou ativista pela abertura e pela redemocratização do país, com atuação plena na Constituinte, pelas questões nacionalistas, pela retomada de direitos civis e militares dos brasileiros atingidos pelos golpes de Estado, e pela valorização da história do Brasil e da FAB.
Em 2021, a Editora Topbooks lançou Adelphi! Voando por Justiça e Liberdade, livro biográfico escrito pela museóloga Elisa Colepicolo e por Pedro Luiz Moreira Lima, contando a história do brigadeiro. “Meu pai era um historiador. Tudo que ele escrevia, ele guardava”. A base do livro foram os escritos deixados por Rui, que totalizaram 8 mil documentos, 6 mil fotos e algumas gravações que o oficial deixou. O termo Adelphi é uma saudação especial, destinada a reverenciar os pilotos de caça da Força Aérea Brasileira que pereceram nos céus da Itália, além de ser usado também para marcar eventos relevantes para a aviação de caça ou para a Força Aérea Brasileira.